A traição da colonialidade: uma perspectiva desde-colonial dos corpos caídos e mortos

Fonte: imagem do autor
Laroiê Exu!
Vamos caminando/ Aquí se respira lucha
Vamos caminando/ Yo canto porque se escucha
Vamos dibujando el camino
(Calle 13)
O quadro surrealista A Traição das imagens de René Magritte de 1929, icônico pela legenda “Ceci n'est pas une pipe” [Isto não é um cachimbo] à representação pictural de um “cachimbo” (?), é provocador até os dias atuais – deixando-nos pasmos há quase um século! – ao desnaturalizar o costume e trazer como fato – feito (factum) – aquilo que é tido pressupostamente como dado – aquilo que é entregue (datus). Libertariamente associando, pois não sou crítico e não me proponho à especialidade das artes, Marcel Duchamp com seus ready-mades [“já feitos”] foi outro desafiador artista modernista europeu que nos fez questionar a tradição ao nos lembrar das coisas que, usadas com frequência em nossos hábitos, tornam-se invisíveis e empoeiradas nos porões, sótãos, oficinas e banheiros públicos. Perguntamo-nos enraivecidos: “Onde foi parar o maldito martelo?!”, como se existisse alguma coisa ou, quiçá, um tipo de força magnética no martelo que o mantivesse no seu lugar, isto é, aquele lugar dado ao alcance dos nossos desejos. Entretanto, como frustradamente sabemos ao cuidarmos das tarefas domésticas, a coisa nunca está onde queríamos que estivesse, pois, ao fazermos algo aqui ou ali – inclusive ao fazermos arte –, o martelo pode ficar em um lugar fora do habitual. Esta foi, na leitura que quero propor com a imagem, título e corpo desta publicação, a sagacidade que os artistas modernistas tiveram: fazer um deslocamento artístico, produzir metáforas do aceitável, seja da “representação”, seja do “objeto”, para produzir “significados” radicalmente novos e contrários ao tido como estabelecido ou canônico.
Inspirado nesse modo alternativo e criativo de lidar com o factual realizado pelos artistas modernistas, quero voltar-me em direção aos mapas e cartografias para lhes negar a condescendência tolerável do “dado”, ou afirmar/nos relembrar do ready-made existente nesses objetos. E, por conseguinte, desnaturalizar ou desnormativizar todo processo de inscrição da América no mappa mundi e na colonialidade do poder, instaurada no que pode ser chamado de moderno padrão mundial de poder[1], que essas reproduções cartográficas simbolizam. Pondo no nosso raciocínio uma pitada de Magritte e de Duchamp ou da agridoce teimosia, secular resistência ao moderno nas artes, dos que falam “isso é arte?... Até um primata faria isso!”, dever-nos-ia espantar o moderno do mappa mundi ou do nome “AMÉRICA” da mesma forma que alvoroça o público um mictório assinado e nomeado por “Fonte” ou os dísticos de Magritte. Por que raramente desconfortam os ready-mades da cartografia que nos são apresentados nas escolas e universidades, mas os ready-mades expostos num museu são tão polêmicos? Arriscando uma resposta, diria: Porque deixamos de pensar, apagamos ou fazemo-nos esquecer dos começos baixos[2] e poéticos que há por trás de todo cachimbo desenhado, mijadouro, roda de bicicleta, cartografia, tratado filosófico, etnocentrismo/etnocentramento etc., para sobrevalorizar as narrativas mitológicas de uma causa primeira, primogênita ou de princípio genético verbal/racional, ao estarmos inculcados por um saber particular[3] que através da colonialidade se outorga o papel de ser racionalmente universal, imparcial e verdadeiro, diz Quijano:
[...] uma específica racionalidade ou perspectiva de conhecimento que se torna mundialmente hegemônica colonizando e sobrepondo-se a todas as demais, prévias ou diferentes, e a seus respectivos saberes concretos, tanto na Europa como no resto do mundo.[4]
Pregando por aí a crença de que: In principio erat Verbum [No princípio era o Verbo], o gênesis verbo-racional, a metafísica messiânica colonizadora legitimou e atualizou as formas mais diversas de exploração e domínio da colonialidade, dos conquistadores sobre os conquistados – inclusive na validação forçada da universalidade dos saberes e modos de percepção do mundo dos primeiros –, uma vez que aos “conquistadores” foi-se atribuída a função epistêmica de mensurar e qualificar todo o mundo. Ou seja, ser a causa primeira verbal/racional, manifestação da vontade de Deus sobre todos os povos[5]. E essa subalternização foi tão eficiente que, mesmo após o fim do colonialismo, as tentativas de reivindicação de si por parte dos povos conquistados deram/dão-se muitas vezes nos termos e mappae [mapas] do colonizador, por exemplo, no uso pouco cuidadoso das categorias coloniais numa suposta identidade americana ou latino-americana. Deveríamos nos perguntar: Qual compromisso deve ter o subjugado com aquele que o subjuga?
Assim sendo, fixar numa parede, como um ready-made ou pintura surrealista,o mappa mundi é recordar simplesmente do factual começo mundano de que: segurando o grafite que marca a folha, há a destreza das mãos de uma personalidade relativa às incisões, pelo menos, de determinada consciência e memória[6]. Isto é, há um autor com suas disposições políticas, ideológicas, históricas, mnemônicas e amnésicas, socioculturais etc. por trás de toda técnica cartográfica. O que não é um empecilho para a livre manifestação da ciência, razão ou técnica – caso contrário, estaríamos nos voltando contra a existência mesma das últimas –, mas condição necessária que precisa ser apontada para melhor reconhecermos as faculdades artísticas e de criação de valores dos seres humanos, seus desenvolvimentos e resguardarmos a possibilidade do questionamento ao embrutecimento dogmático, ortodoxo ou doutrinário.

Parte de cartografia de Juan de la Cosa (1500) à esquerda e parte de mapa de Waldseemüller (1507) à direita. Ambas as partes estão representando a América ou Novo Mundo.
Seja em Juan de la Cosa, Martin Waldseemüller[7] ou atuais imagens por satélite, se é veraz o que venho argumentando, os mapas e cartografias não são manifestações do dado, mas feitos sob perspectivas, traçados de trópicos e meridianos, coordenação, nomeação e recorte de localidades. É nesse sentido que quero parodiar Magritte ao legendar o mapa americano com a frase “Isto não é a América”. Trata-se de uma proposta de pôr sob observação isto que nomeamos por América. Não por essa cartografia nos alienar da imagem do real, daquilo que seria a América “autêntica”, suas histórias e narrativas per se ou as identidades, povos e nações originariamente americanos. Mas porque quero (i) realçar na cartografia moderna a sua existência enquanto tecnologia de acesso e dominação, a princípio, luso-hispânica e, mais tarde, de toda Europa ou dos “brancos”[8] àquelas porções de território[9], (ii) pôr em questionamento o conservadorismo das categorias, costumes e hábitos coloniais, e (iii) promover um pensamento desde-colonial[10] de resistência[11] e traição à colonialidade do poder – saber, ser, gênero, linguagem, entre outras. Em outras palavras, fomentar um projeto de volver-se contra todas as formas de governanças institucionais e sociais[12] iniciadas ou atualizadas pelas marcas da colonização – falo de marcas objetivas como o Meridiano de Tordesilhas, que fragmentou o mundo entre conquistadores-conquistados e atribuiu proprietários estes ou aqueles ao Mundus Novus – e que persistiram aos processos de independência das colônias[13].
É nesse contexto epistemológico que venho trabalhando com duas personagens que habitariam o território desde-colonial, libertário e de resistência da Améfrica Ladina[14]. Duas personagens de uma mesma tipologia dos corpos caídos e mortos ou afinidade alternativa e criativa de revoluções outras a serem feitas em forma ou conteúdo.
Aqui, com o intuito de especificar a existência dessas personagens, mais uma vez quero fazer uso da metáfora do ready-made, no sentido amplo daquilo que (a) está feito e é ressignificado/desnaturalizado/desnormativizado e (b) da rememoração factual do banal olvidável, para pensar nos corpos caídos, as primeiras personagens, como aqueles pelos quais se luta, e nos corpos mortos, as segundas personagens, como aqueles que ao lutar aceitam morrer ou matar algo em si por suas causas.
Sobre o primeiro, corpos caídos são aqueles que caem das sacadas luxuosas, caem dormidos e entorpecidos sob marquises e pontos de ônibus do centro da cidade, caem ensanguentados pelas forças tirânicas e repressoras do Estado, tendo seus corpos arrastados publicamente por carros para servir de exemplo, ficam caídos nos corredores e portas de hospitais, caem das motos e bicicletas nas ruas da metrópole com encomenda de app de entregas nas costas, são jogados no fundo de uma cela, humilhados e abatidos em massa. Vitimados em centena de milhares, mas não vitimizados. Essa é uma modificação importante de perspectiva que o ready-made desde-colonial propõe ao pensar a vítima enquanto fato e não dado, já que reconhecer no corpo as suas quedas não é o mesmo que lhe atribuir uma essência subalterna. Um exército que sofre baixas ou um pugilista cansado ao final do décimo-segundo assalto não podem ser definidos por seus abatimentos. Desse modo, à sugestão de revoluções da situação colonial e exploratória no status quo dos corpos caídos deve ser de primeira ordem a modificação do papel revolucionário dos corpos abatidos – não mais como temáticas ou pautas auxiliares, mas como protagonistas autodeterminados de luta[15]–, caso contrário, não nos seria possível falar em movimentos des/decoloniais que não continuassem por perpetuar variedades do paternalismo ou metafísica messiânica colonial.

Fonte: Grupo de propaganda revolucionaria - La ruptura [Facebook].
Sobre o segundo personagem com que venho trabalhando, gostaria de fazer das minhas palavras as de Lorenzo Kom’boa em Anarquismo e Revolução negra:
Essas pessoas “brancas” devem se engajar em um suicídio de classe e traição de raça antes que realmente possam ser aceitos como aliados dos Negros e trabalhadores oprimidos por sua nacionalidade; toda a ideia por trás de uma “raça branca” é conformismo e os torna cúmplices de assassinato em massa e exploração. Se os brancos não querem vincular a si próprios o legado histórico do colonialismo, da escravidão e do genocídio, então eles devem se rebelar contra os mesmos. Assim, os “brancos” devem denunciar a identidade branca e seu sistema de privilégio, e eles devem lutar para redefinirem-se a si mesmos e sua relação com os outros[16].
Se cito Kom’boa, faço para agourar a consciência embranquecida que nos foi internalizada – em todos, mas propositalmente em uns mais do que outros[17] – numa sociedade racista e dizer: “Mate o branco que existe dentro de você”[18]. É desse imperativo agourento que a segunda personagem desde-colonial surge enquanto corpo morto, Traição da imagem embranquecida/“branca” que temos de nós mesmos, Ready-made de desnormativização do “branco”. Porque, ao lutar por uma outra sociedade, libertária, contrária a todas as formas de corte, distinção e distribuição dos corpos entre aquele que mandam e aqueles que obedecem, governantes e governados, conquistadores e conquistados, aqueles que lutam devem aceitar deixar morrer/matar as categorias do “branco” se não desejam estar vinculados, como foi supracitado, a um legado histórico de colonialismo, colonialidade, escravidão, exploração e genocídio.
Como foi dito anteriormente, já repetindo de modo quase enfadonho, tentando concluir, estou trabalhando com essas duas personagens, ou com a afinidade política das mesmas, para tentar produzir, entender e legitimar as propostas de um sonho[19] por uma sociedade libertária feita nos atravessamentos das abcissas e ordenadas das antigovernanças[20]. Um sonho de poder sonhar livremente e cantar como nossos mais velhos, Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho:
Sonho meu, sonho meu
Vai buscar quem mora longe
Sonho meu
Vai mostrar esta saudade
Sonho meu
Com a sua liberdade
Sonho meu
Texto publicado originalmente no site do PAC.
Este texto adianta tópicos de uma pesquisa que venho desenvolvendo dentro do CPDEL (Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertárias) sob orientação de Wallace de Moraes. A proposta deste artigo para o Portal Autônomo de Ciências surgiu a partir de uma exposição feita no Festival do Conhecimento da UFRJ no painel temático sobre Racismo, descolonialidade e racismo do dia 23/07/2020. Para acompanhar essa fala, confira: https://www.youtube.com/watch?v=cDO7T6pLv34&t=5117s
Ygor Pena é formado em filosofia pela UFRJ, mestrando na linha de pesquisa de gênero, raça e colonialidade do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGF) da UFRJ e integrante do grupo de pesquisa CPDEL e do NFC (Núcleo de Filosofias da Criação).
↑[1] QUIJANO, A. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, p. 117-142, 2005. Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf
↑[2] FOUCAULT, M. Nietzsche, a genealogia e a história. In: MACHADO. R. (org.). Microfísica do poder. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018, p. 59.
↑[3] Sobre as particularidades, cf. RAMOSE, M. Sobre a Legitimidade e o Estudo da Filosofia Africana. In: Ensaios Filosóficos. Rio de Janeiro, v. IV, out.-2011. Disponível em: http://www.ensaiosfilosoficos.com.br/Artigos/Artigo4/RAMOSE_MB.pdf. Acesso em: 09 de março de 2020.
↑[4] QUIJANO, A. Op. Cit., p. 126.
↑[5] Sobre as justificativas católicas/cristãs em primeira mão para a escravidão e diáspora negra, Cf. VIEIRA, A. Sermão XIV. Portal Domínio Público – Ministério da Educação, Brasília, DF. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000032pdf.pdf.
↑[6] GONZALEZ, L. Primavera para as Rosas Negras: Lélia Gonzalez em primeira pessoa. Coletânea Organizada e editada pela União dos Coletivos Pan-Africanistas (UCPA). Diáspora Africana, 2018, “Racismo e sexismo na cultura brasileira”.
↑[7] Em Cosa temos o mapa mais antigo em que o Novo Mundo é representado (1500), notemos o Meridiano de Tordesilhas que atravessa essa porção territorial, e, em Waldseemüller (1507), temos o primeiro mapa em que a inscrição América é encontrada.
↑[8] Sobre a existência a posteriori da identidade “europeia” e “branca” em relação à invenção da “América” (1492), cf. QUIJANO, A., Op. cit., “Raça, uma categoria mental da modernidade”; ERVIN, L. K. Anarquismo e revolução negra e Outros Textos do Anarquismo Negro. São Paulo: Sunguilar, 2015.
↑[9] Sem falar da neocolonialidade estadunidense.
↑[10] Na indefinição de preferência por uma dessas grafias, descolonial ou decolonial, gostaria de propor um jogo de palavras em que ambos os prefixos são grafados produzindo a sonoridade e escrita do termo “desde” (“a partir”). Com isso, podemos pensar que desde-colonial, para além de toda crítica des/decolonial, é uma proposta de pensamento de resistência produzido por aqueles corpos que estão sob condições de colonialidade. Afinal, ninguém melhor que aqueles que vivem sob o jugo da colonialidade sabe como lutar contra isso. Esse é nosso direito de autodeterminação.
↑[11] Estou pensando o conceito de resistência com LUGONES, M. Rumo a um feminismo descolonial. Revista Estudos Feministas, v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014; e CABRAL, A. La cultura, fundamento del movimiento de liberación. El Correo, p. 14, 1973.
↑[12] MORAES, W. Estadolatria, plutocracias, governanças sociais e institucionais – preâmbulo de um paradigma anarquista de análise. OTAL, 2018. Disponível em: http://www.otal.ifcs.ufrj.br/estadolatria-plutocracias-governancas-sociais-e-institucionais-preambulo-de-um-paradigma-anarquista-de-analise1/. Acesso em: 5 de abril de 2020.
↑[13] Esse é o ponto alto do marco teórico crítico des/decolonial, isto é, o apontamento das persistências e intimidades das práticas coloniais no mundo capitalista e globalizado pós século XVI.
↑[14] GONZALEZ, L., Op. cit., “A categoria político-cultural da Amefricanidade”.
↑[15] ERVIN, L. K., Op. cit., p. 17-20.
↑[16] ERVIN, L. Op. cit., p. 38, grifos do autor.
↑[17] São para mim de grande valor as teses de Kom’boa sobre a estreita relação das condições políticas e socioeconômicas dos “brancos” e negros (ERVIN, L. Op. cit., “Uma Análise da Supremacia Branca”), e o uso da ideologia da “supremacia branca” como aprimorada resposta de perpetuação da hegemonia burguesa-colonial e repressão às políticas de luta de classe (Ibidem, “Como os capitalistas usam o Racismo”; “Derrotar a supremacia branca!”). Observo, entretanto, que, se valorizo o trabalho de Kom’boa, levo-o em consideração com observações – pois é notável que as críticas de Kom’boa, num contexto estadunidense, vão se dirigir a uma branquitude que está fixada por discursos do “racismo de origem”. Ou seja, leio-o pondo em diálogo com a situação racial brasileira, por exemplo, com o pensamento de Lélia Gonzalez, quando a autora identifica o desenvolvimento de uma consciência embranquecida, no contexto do racismo à brasileira, também nos corpos melanodérmicos. Cf. GONZALEZ, L. Op. cit., “O movimento negro na última década”.
↑[18] Gostaria de referenciar essa frase à excelente síntese do pensamento de Kom’boa feito pelo Coletivo Editorial Sunguilar na edição brasileira de Anarquismo e Revolução Negra.
↑[19] Cf. KRENAK, A., Ideias para adiar o fim do mundo. Editora Companhia das Letras, 2019, p. 51-52: “Quando eu sugeri que falaria do sonho e da terra, eu queria comunicar a vocês um lugar, uma prática que é percebida em diferentes culturas, em diferentes povos, de reconhecer essa instituição do sonho não como experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia”.
↑[20] Cf. PENA, Y., O movimento negro despolitizado é um movimento conservador. Disponível em: https://terrasemamos.wordpress.com/2020/06/10/ygor-pena-o-movimento-negro-despolitizado-e-um-movimento-conservador/



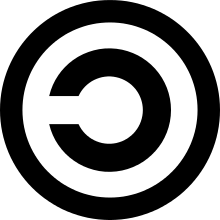 Copyleft. É livre a reprodução para fins não comerciais, desde que autor e a fonte sejam citadas e esta nota seja incluída.
Copyleft. É livre a reprodução para fins não comerciais, desde que autor e a fonte sejam citadas e esta nota seja incluída.